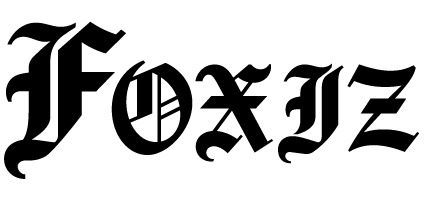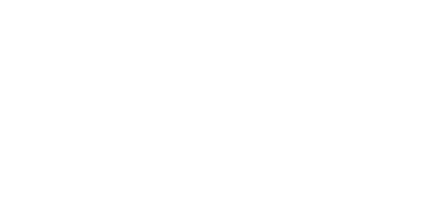“Hoje em dia eu tenho muito medo de me relacionar com outra pessoa. Fica um trauma porque a pessoa me fala um ai atravessado e já fico pensando: Esse ai vai me agredir, vai ser a mesma coisa. A gente fica muito ruim depois disso e para termos uma vida normal é difícil”, desabafa Paula*, mulher, mãe e vítima de violência doméstica e duas tentativas de feminicídio.
Em julho deste ano, o Rio Grande do Sul registrou um aumento significativo do casos de feminicídio em todo o estado. Houve um crescimento de 350% em relação ao mesmo período do ano interior. Foram nove casos, sete a mais que em julho do ano passado. Esse aumento vem logo após o estado ter o seu menor registro histórico. O alerta já havia sido feito em maio deste ano pela jornalista, mestre em Ciência Política, integrante da Rede de Saúde das Mulheres Latinoamericanas e do Caribe/RSMLAC, Télia Negrão, ao Brasil de Fato RS.
De acordo com o Observatório Estadual de Segurança Pública do Rio Grande do Sul que monitora os indicadores de violência doméstica no estado, do início deste ano até o mês de julho foram registradas 18.201 ameaças, 9.794 casos de lesão corporal, 58 feminicídios consumados e 144 tentativas. Para se ter uma ideia, ano passado foram computadas 33.651 ameaças, 18.910 de lesão corporal, 80 feminicídios consumados e 317 tentativas.
O Brasil de Fato Rio Grande do Sul ouviu o relato de algumas mulheres que foram vítimas de violência doméstica.
“Não saio mais de casa sozinha”
Paula* é moradora da Restinga, assim como muitas mulheres que vivem em um relacionamento permeado por violência doméstica, ela permaneceu no mesmo, por questão financeira. A relação durou cinco anos. Como muitos no começo, ele se mostrou carinhoso, e com um início rápido. “Ele começou a frequentar minha casa, e quando percebi estávamos morando juntos.” Paula, na ocasião já tinha uma filha de sete anos, fruto de uma relação onde não houve nenhum tipo de violência.
Ela conta que as agressões começaram nos quatro primeiros meses de convivência, primeiro verbais, e então a primeira violência física. “Tivemos uma briga, ele me agrediu, puxou meu cabelo. Depois desse episódio tivemos uma conversa em família, com a família dele, onde ele disse que nunca mais faria isso.”
Por um tempo as agressões físicas cessaram, dando espaço para a psicológica. “Eu botava uma maquiagem e ele dizia que eu estava fazendo isso para chamar atenção dos outros. Eu trabalho com o público dai ele sempre inventava que eu ficava com os meus clientes, que eu andava com eles. Sempre foi assim”, conta.
Quando eles saíram da casa da mãe dele, onde moravam, Paula, agora com dois filhos, a menina do primeiro relacionamento e um menino, a agressão física voltou. “Compramos uma casa. No dia 13 de março do ano passado, ele pegou no meu pescoço tentando me estrangular. Foi quando fiz a minha primeira medida protetiva.”
Segundo Paula, ela foi socorrida pela filha que na ocasião estava com 11 anos. Aliás foi a filha que a convenceu a fazer a denúncia. Contudo, mesmo com a medida protetiva, a violência persistiu. Ele a seguia, ameaçava, chegando até a dar um soco.
“Em todas às vezes que ele me seguiu e fez qualquer coisa eu sempre chamei a polícia e ouvia: “ah, a gente não pode fazer nada porque não foi pega em flagrante”, relata.
A medida protetiva foi renovada em dezembro do ano passado. Ela não impediu de uma nova agressão, dessa vez quase fatal. Ela aconteceu no dia 3 de janeiro deste ano. Conforme lembra Paula, ele chegou até a frente da sua casa, onde a bateu com uma barra de ferro. Violência que foi presenciada pelo filho de cinco anos.
Nesse último episódio, Paula novamente foi à delegacia fazer a denúncia e pedir uma nova medida protetiva. Diferente da primeira vez, onde ela foi bem atendida e acolhida, nessa foi hostilizada, chegando o atendente perguntar o que ela tinha feito para provocar a agressão.
: Leia também: “Há uma banalização da violência contra as mulheres no país”, diz cientista social
Ressalta que na última agressão o ex-companheiro já estava em um novo relacionamento, e que mesmo assim a perseguia. Ele foi preso por 81 dias, prisão que só aconteceu por ela ter feito a denúncia em um programa de TV. “Agora estou com uma nova medida, que ele não pode chegar perto, com duração até o final do ano. Ele está de tornozeleira.”
Fora a irmã e a mãe, que sabiam das brigas, Paula não falava a mais ninguém sobre as agressões que sofreu durante o relacionamento. Ela começou a falar sobre o mesmo após a separação. Para ajudá-la a enfrentar o trauma, contou com o apoio das promotoras e da equipe da Themis. O medo ainda persiste. “Morro de medo quando eu vejo um carro parecido. Eu não saio sozinha na rua, se vou no mercado, meu filho vai junto, minha irmã me leva e busca para o trabalho. Estou sempre com meus parentes.”
“Eu não critico ninguém, mas pergunto por que está aceitando? Cada pessoa tem o seu motivo. Eu fiquei nesse relacionamento porque tive muita perda financeira. O que as mulheres puderem fazer para sair dessa situação devem fazer porque é horrível”, finaliza.
“Tenho histórico, infelizmente, de relações violentas”
Com 49 anos, Ana* passou por duas relações onde sofreu violência doméstica. A primeira foi aos 27 anos, com o pai dos seus dois filhos (ela tem mais uma filha de coração), com quem ficou casada por sete anos. Nessa primeira situação, ela conta que sofreu muitos episódios de violência doméstica. Separada já há quase 10 anos, ela voltou a se relacionar. Independente financeiramente, ela sempre arcou com o sustento dos filhos e da casa
Ana trabalha no meio político, onde teve e tem uma influencia significante, fator que acredita ter influenciado nas agressões que viriam acontecer no novo relacionamento. “Aonde a gente ia as pessoas sempre me elogiavam. Isso o incomodava, o receio de eu ficar sendo mais do que ele, ganhando mais que ele. Ele gostava de ter o controle. No momento que percebeu que eu estava ficando independente isso passou a incomodar”, conta.
Ela permaneceu nesse relacionamento por 10 anos. As agressões e as violências começaram no segundo ano. Ela chegou a se separar em fevereiro do ano passado, ficando afastada por nove meses. “Acabei voltando, cometendo essa burrice. Isso foi em novembro.” De acordo com Ana, o momento mais crítico foi quando ela foi sequestrada, em dezembro, pelo marido e a amante dele.
“Eles me bateram muito. Ele chegou a fazer um vídeo e postou no Facebook. Alguns conhecidos meus viram e começaram a ligar para ele. Não sei qual era a intenção deles. Isso tudo aconteceu dentro de um motel. Depois ele ficou umas quatro horas comigo, dentro do carro, foi quando eu consegui fugir. Um taxista viu que eu estava bastante machucada e me botou dentro do carro e me trouxe até em casa onde todo mundo estava me esperando.”
Ele ficou três meses preso. “Saiu, por causa da pandemia, porque ia demorar para uma outra audiência. As falhas da justiça. No dia da audiência eu falei para a juíza que esperava não virar uma estatística.”
Para ela, a Lei Maria da Penha é eficiente, contudo o Judiciário é que não consegue ter uma posição mais eficaz, tornando a justiça muito falha. “Hoje meu maior empenho, ao fazer o debate da violência contra a mulher é a questão da justiça. Enquanto a justiça não tiver um olhar de que mesmo com a medida protetiva, nós ainda somos uma vítima potencial dos homens, não vai mudar. Eu enxergo vários erros do trato da questão da violência doméstica.”
Uma situação que a marcou foi em uma audiência. Conforme descreve, as mulheres quando vão ingressar na sala onde haverá a audiência tem que passar por um lugar onde os agressores estão. “Ali eles se unem de uma maneira que chegam a fazer um corredor para as mulheres passarem. Para mim isso é horrível, eu senti na pele, mesmo com a proteção da minha advogada na época.”
Ela conta que teve um excelente acompanhamento da patrulha Maria da Penha que ia até sua casa de 15 em 15 dias. Relata também que nessa última relação entrou com uma medida protetiva após o episódio do motel, cuja renovação foi negada pelo juiz. Ao negar a medida, o juiz teria dito que só poderia ter uma nova medida protetiva a partir de um novo ato dele.
“São falhas do judiciário que acabam afetando a gente. Eu ainda tenho a sorte de ter toda a proteção da comunidade onde a gente mora. Eu tenho muito mais segurança da minha comunidade porque eles me acolhem, protegem, do que da justiça.” Hoje, o ex-companheiro está em um novo relacionamento e não a incomoda mais.
Mesmo assim ela se mantém alerta. “O cara que agride uma mulher é um psicopata, alguém que sempre vai ser violento. Quando prendemos uma pessoa dessas e depois soltamos, colocamos a vida da mulher em risco. Quantas e quantas mulheres morreram com medidas protetivas? Um papel não nos protege, infelizmente”, desabafa.
Para as mulheres que ainda se encontram nessa situação deixa a seguinte mensagem. “Não precisamos viver em um relacionamento abusivo, não precisamos abrir mão da nossa liberdade. A gente precisa é ser feliz. Estar sozinha, às vezes, é a melhor coisa para nossa saúde mental. A vida segue. As mulheres, infelizmente estão muito carentes e acham que se não tiverem uma pessoa do lado elas não vão ser felizes. Mas não! A vida segue, a vida é boa, temos que aprender a ser feliz conosco mesmo. Eu tive que passar por momentos muito difíceis para entender isso: Somos felizes sim sozinhas e merecemos ser felizes.”
““O que aconteceu não é o que nós somos. Somos o que desejamos e escolhemos ser” / Foto: Fabiana Reinholz
“Na violência psicológica, meu agressor usou meu abuso familiar”
Sandra* também foi marcada pela violência doméstica. A primeira situação aconteceu aos 12 anos quando foi abusada por uma pessoa da família. Essa situação marcou sua vida, o que fez com que levasse mais tempo a confiar e se relacionar com alguém e ver o amor como algo bom.
O primeiro envolvimento amoroso que teve foi entre os 15/16 anos. “Parando agora para analisar, depois que o tempo passou e desde que conheci o movimento feminista, comecei a estudar sobre, e a própria maturidade vai nos mostrando que o relacionamento desde o início foi abusivo, e que sempre sofri violências.”
Segundo ela, o momento mais critico foi quando eles haviam completado um ano de relacionamento. O companheiro passou a fazer ameaças e violências psicológicas fortes, culminando na agressão física.
“Eu sou uma pessoa grande, tenho quase 1m80, ele um homem de 2 metros, fisioculturista, forte. Em uma briga nossa ele simplesmente me levantou com uma mão só, contra a parede, segurou pelo pescoço e me levantou. Ameaçou, disse que eu não iria sair do quarto que não terminaria o namoro, porque ele queria casar, ter filhos. E não ia permitir o fim do namoro antes dele querer terminar.” Ela conseguiu chutar ele e sair daquela situação.
Separada há sete meses, Sandra diz que ele começou a persegui-la, chegando a agredi-la em uma festa. Por medo ela acabou voltando para ele. Ficaram juntos até completar dois anos e meio. As agressões seguiram. Eles terminaram de vez, contudo as perseguições não pararam, chegando ele novamente agredi-la ao se encontrarem em uma festa. Dessa vez ela entrou com uma medida protetiva. Mesmo com a medida ele seguiu perseguindo.
A experiência vivida fez ela formar um coletivo feminista na região onde mora. Agora aos 22 anos, Sandra conta que as perseguições só tiveram fim, por conta de uma “armação ilegal”, que o pai dela fez, quando em janeiro deste ano uns amigos deram um susto nele.
: Leia mais: A violência doméstica que atinge mulheres e mães expõe a mão pesada do patriarcado
Ela só descobriu que sofria violência quando sofreu a violência física. “Após isso consegui identificar as violências psicológicas, os estupros enquanto eu dormia. Foram diversas violências que eu pude identificar que sofri no namoro.” Conforme frisa, após passar por essa experiência ela começou um processo que permitiu identificar as violências e não aceitá-las.
“Nesse meio tempo passei por muitas psicólogas, psiquiatras, terapeuta, e passei a me conhecer e não ter que reprimir a minha própria sexualidade, por conta desses medos, dessas relações. Vai fazer dois anos e meio que eu consegui me aceitar, consegui me entender enquanto uma mulher, uma mulher lésbica. Hoje minha vivência é diferente. E é também por conta da minha aceitação que ele me seguia até bem pouco tempo atrás, o que costumamos chamar de violência de correção, que é o que ele tentava fazer quando me perseguia, e que em janeiro conseguimos estancar. Mas ainda corro riscos, todo dia é um novo dia que ele pode vir atrás. Por enquanto estamos aqui, estamos bem.”
A medida que Sandra conseguiu foi uma medida emergencial e não permanente, sem possibilidade de renovação, porque ela não conseguiu obter provas materiais da perseguição. “Toda vez que ele me perseguia não conseguíamos tirar fotos ou vídeos, porque ele sabia como fazer. Algumas vezes até conseguíamos, mas é um processo muito longo, e envolve pessoas de dentro, servidores.” O agressor é uma pessoa de renome em sua cidade.
Como uma sobrevivente, Sandra tirou da experiência a seguinte lição: “O que aconteceu não é o que nós somos. Somos o que desejamos e escolhemos ser. Eu escolho quem eu sou hoje, ser uma ativista pelos direitos humanos, pelas mulheres, pelo movimento feminista que foi quem me salvou. Eu não seria nada sem as mulheres que me abraçam todos os dias. Quando a gente conta as nossas vivências a gente supera um pouquinho mais. Poder contar o que eu passei para outras mulheres, há a chance de salvar outra mulher como eu que passou o que eu passei”.
Para ela a violência contra as mulheres está dentro de um sistema cultural patriarcal, de educar, ensinar e de repassar valores deturpados a seus filhos. “A nossa luta todos os dias é contra um sistema que cria homens violentos. E a partir do momento que a gente consegue circular informações, proteger, garantir direitos, formar mais mulheres feministas para que seus filhos não sejam pessoas agressivas, que elas possam criá-los fora desse sistema patriarcal. Que se empoderem dentro dos relacionamentos para que não se repita o ciclo de violência que seus parceiros possam vir a criar, é o que nos motiva todos os dias.”
“Eu Escolhi Viver”
Yannahe Marques (esquerda) e a terapeuta Rose Rech (direita) / Foto: Editora Citadel/Divulgação
“A situação não se instala da noite para o dia. Vai piorando aos poucos e, se você não rompe aos primeiros sinais de alerta, está correndo o risco de pagar com a sua vida. Eu tive uma segunda chance, mas a maioria não tem”, afirma Yannahe Marques, sobrevivente de uma tentativa de feminicídio. O alerta dela foi feito no livro recentemente lançado “Eu Escolhi Viver”, onde ela narra sua história. Ela escreveu o livro com a ajuda da sua terapeuta Rose Rech.
Ao Brasil de Fato Rio Grande do Sul, Yannahe conta que as violências começaram no início do namoro, de forma mais leve. “Por conta disso eu acreditei muito que tivesse sido um deslize, um momento de nervoso, que isso fosse passar e que ele não fosse fazer mais. Isso seguiu por pelo menos 13 anos.”
Ela só acreditou que estava sendo vítima de violência quando levou um tiro do ex-marido, em 2019. A bala entrou pela nuca, ricocheteou na testa e partiu em três no corpo (a bala permanece alojada na região). “Depois da tentativa de homicídio eu precisei de muita terapia para entender que eu sofria violência doméstica, porque até então para mim eram deslizes dele e que iria parar em algum momento, era isso que eu pensava.”
Como acontece em muitos casos, Yannahe não contou para ninguém as violências que vinha sofrendo. “O que eu gostaria de dizer para as mulheres é que não perdoem mais, chega! Se vocês estão passando por isso não perdoem mais. Eles não vão parar, não vão melhorar, é um ímpeto deles. Perdoar é dizer, olha, tudo bem, você não me machucou muito ainda, eu vou deixar você fazer de novo. É exatamente isso. Então não perdoem, ou se perdoarem digam, você está perdoado, vai viver sua vida porque eu não te quero mais. Mas continuar nessa relação vai te fazer muito mais doente. Eles destroem nosso psicológico, nosso amor próprio, eles destroem muitas vezes até nossos sonhos.”
“Nem sempre se percebe quando o ciclo nasce”
A terapeuta Rose Rech conheceu a Yannahe no final de setembro de 2019, seis meses após o atentado, e desde lá vem a acompanhando. Em sua avaliação a cultura machista e patriarcal é que leva à violência contra as mulheres. “É uma cultura que vem se arrastando há milhares de anos. A mulher foi, por muito tempo, criada para ser objeto de prazer para o homem. Então as mulheres nasceram para servir, e essa cultura, em muitas mulheres também está enraizada”, pontua. Parar mudar essa realidade ela destaca que uma das primeiras medidas a ser tomada é educar a todos nas escolas que a mulher não nasceu para ser objeto de prazer do outro.
Conforme explica a terapeuta, nem sempre se consegue perceber quando o ciclo de violência nasce, pois muitas vezes ele aparece de uma forma sútil, como, por exemplo, no que a mulher está vestindo. “Ah, não coloca essa roupa”, “ah tu não acha que esse short está muito curto, essa tua saia não está muito curta”, exemplifica. Como costuma acontecer na maioria dos casos, esse tipo de atitude é interpretada pelas mulheres como uma forma de “cuidado”.
“Vai se instalando, aos pouquinhos, uma relação de possessividade e submissão dessa mulher. E, às vezes, elas levam, como a Yannahe, 13 anos para entender que estão vivendo um relacionamento abusivo. Nem sempre a violência é física, muitas vezes é aparente, é só um pegar no braço. E esse pegar no braço é uma violência que não deve acontecer. E essa mulher como não ficou roxa, como não teve uma agressão de fato, ela passa a mão por cima e segue vivendo aquela vida”, conta.
De acordo com Rose Yannahe por ser uma mulher forte, decidida demorou a reconhecer a situação que se encontrava. Algo também comum em muitas mulheres. “Além da dificuldade de falar as coisas com esse tom, tinha a questão de que dizer que ela era vítima de um relacionamento abusivo a ofendia. Nós construímos ali um caminho bastante demorado, meses construindo uma intimidade para trazer situações que pudesse mostrar para ela isso, pedacinho por pedacinho. Até porque como as agressões eram bastante esporádicas, não era uma coisa que acontecia todo mês, toda semana, mais dificuldade nós tivemos nesse processo”, relata.
Na avaliação da terapeuta cada pessoa tem sua particularidade para quebrar esse ciclo. Contudo, ela destaca o processo de se despir da vergonha e falar sobre o assunto. “Sem medo de se expor e contar, contar para os amigos, para a família, buscar ajuda. Esse é o primeiro passo para mudar, sair do medo, para buscar saída desse ciclo”, aponta.
Acrescenta também o processo de se livrar do sentimento de culpa. “Ah, o que será que eu fiz para ele agir assim. Ah foi eu que provoquei, fui eu que não fiquei quieta… Porque eu podia ter me calado, ele estava irritado, fui eu que afrontei. Porque fui eu que usei a roupa inadequada. Não, não existe isso, ninguém tem o direito de bater em outra pessoa. Sair da vergonha e sair da culpa são os primeiros passos para começar a romper esse ciclo”, conclui.
* Os nomes foram trocados para resguardar a identidade das mulheres.
Fonte: BdF Rio Grande do Sul
Edição: Katia Marko