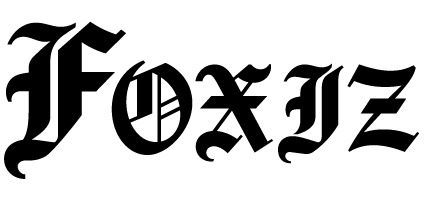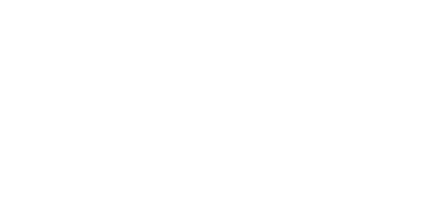Tenho visto, ao longo da minha vida, escritores com pires na mão suplicando a políticos apoio para escreverem e publicarem em livro físico, como se escrever não fosse só escrever. Quanto a publicar em papel é uma consequência de três fatores: talento, trabalho nunca descontinuado e divulgação. Talento é congênito; trabalho é sair da zona de conforto e não ter medo do quanto podemos suportar, inclusive fome; e promoção, incluindo autopromoção, advém da confiança que temos no nosso taco.
Mas há receitas. Por exemplo: quando Paulo Coelho decolou entre os anos 1980 e 1990, estava no lugar certo e no momento certo. Um dia, uma repórter do Grupo Globo, quando a TV Globo mamava quietinha na teta trilionária da burra, foi ao apartamento do escritor para entrevistá-lo, ele olhou para o céu e disse que ia chover, o que até cachorro percebe, dependendo do tamanho e cor da nuvem. Não deu outra: no dia seguinte saiu que Paulo Coelho era um bruxo que fazia chover.
Aí, com O Alquimista, que deixou os franceses, famosos por serem ávidos leitores, ajoelhados, Paulo Coelho se tornou o maior vendedor de livros do mundo, e é recebido por aí como astro do rock. Atualmente, ele se entocou na Suíça, de onde dispara a metralhadora, de vez em quando, no lombo de Bolsonaro, que não está nem aí para Paulo Coelho, pois tem couro de platina e ouro.
Uma receita que tem dado certo, pelo menos para o americano Dan Brown, autor de O código da Vinci, é a construção de uma trama ao mesmo tempo simples e surpreendente, como em O símbolo perdido (Sextante, Rio de Janeiro, 2009, 489 páginas).
Brown não é nenhum estilista, mas é um extraordinário escritor de tramas policiais, que prendem da primeira à quatrocentésima octogésima nona página, como é o caso de O símbolo perdido, de tirar o fôlego, vertiginosa e surpreendente a cada página.
Brown era casado com uma historiadora da arte que o ajudava nas pesquisas que alicerçavam seus livros e certamente ele é iniciado em esoterismo, ou pelo menos tem conhecimento disso. Munido dessas ferramentas, de como funcionam as agências de inteligência e confrarias misteriosas, ele recheia de peripécias pós-modernas um enredo simples. E está montada a trama.
No caso de O símbolo perdido o enredo é absolutamente simples. A CIA, a agência de inteligência americana, recebe um ultimato: ou entrega uma determinada informação a um tipo que parece saído de Hollywood ou serão disponibilizados na internet alguns vídeos que causarão um cataclismo nos Estados Unidos. O resto são 489 páginas surpreendentes.
Foi por intermédio desse livro que compreendi claramente algo que perpassa a obra do filósofo japonês e criador da Seicho-No-Ie, Masaharu Taniguchi. Algo já revelado também por Albert Einstein: que o Universo, tal qual nós o conhecemos, é integralmente feito de energia.
Em O símbolo perdido, uma cientista faz experimentos no contexto da Noética. Ela anda atrás de conhecer o poder da mente. Aí é que entra Masaharu Taniguchi. Foi ele que esclareceu a mim que o mundo fenomênico, o mundo material, tangível pelos cinco sentidos, é apenas sombra da mente. Desse modo, a mente tem o poder de moldar o mundo fenomênico. Mas como fará isso?
Pelo pensamento. Mas é necessário combustível para que o pensamento seja direcionado. O combustível é a força moral, ética, e fé, que remove montanhas. Assim, Dan Brown me fez entender o que eu já vinha estudando em Masaharu Taniguchi.
Também li Anjos e Demônios (Sextante, Rio de Janeiro, 2009, 416 páginas), um thriller mirabolante. Não largamos o livro até terminá-lo, mesmo que já tenha passado da meia-noite. Na linha de O código da Vinci e O símbolo perdido, Anjos e Demônios é uma incursão em profundidade no Vaticano e uma aula sobre anti-matéria, sob fio condutor surpreendente a cada capítulo, numa história que envolve arte, ciência, política, filosofia e loucura.
Um terrorista ameaça varrer o Vaticano do mapa com uma bomba várias vezes mais potente do que a de Hiroshima. Ele conta com um assassino determinado para concretizar seu plano, mas não contava com a aparição do professor de Simbologia Religiosa na Universidade de Harvard, o americano Robert Langdon, e com a biofísica italiana Vittoria Vetra.
A mais perfeita modalidade de arte, a literatura, leva vantagem sobre suas seis irmãs porque seu instrumento, a palavra, é, por si só, criador, e, se for utilizado com maestria, é capaz de criar cenários que nem o cinema tecnológico de ponta de Hollywood sonha chegar perto. Assim, se o escritor tiver uma boa ideia na cabeça e dominar tanto a matéria-prima daquele trabalho quanto o idioma com o qual escreve, e também for publicado no mercado americano, só não fará sucesso se não quiser. O Código da Vince que o diga.
Em Origem (Sextante, Rio de Janeiro, 2017, 427 páginas), último livro de Dan Brown, pelo menos que eu li, ele mostra que o celular é a prova de que o ser humano é um ciborgue. Outro dia, conversando com um amigo meu, crítico literário, falávamos sobre livros clássicos, revolucionários, que mudam o modo de escrever dali para frente.
– E Dan Brown? – Perguntei-lhe, durante a conversa.
Ele fez cara de nojo.
Perguntei isso porque sou leitor inveterado de livros policiais e de detetive, e cinéfilo de filmes do gênero, e Dan Brown é um mestre em criar tramas intensas. A sinopse de Origem é o seguinte: um gênio da informática, bilionário, ateu, prepara um show para dar uma informação mundial que levaria ao fim das religiões, com a resposta às perguntas: de onde viemos e para onde vamos?
Origem faz longas digressões pela arte espanhola e aborda o fanatismo dos espanhóis pela Igreja e o saudosismo pelo ditador nazista Francisco Franco por parte das gerações mais velhas, mas mesmo assim prende o leitor do início ao fim, pois da mesma forma que os suecos Stieg Larsson e David Lagercrantz, da Série Millennium, trata-se de um mergulho no uso da internet; pula de cabeça na inteligência artificial.
A Humanidade, desde os primórdios da História, sempre travou um embate entre religião e ciência. Houve uma época em que a Igreja Católica Apostólica Romana dominou a Europa e as Américas através do terror, e tentou agarrar também o Oriente, até que a ciência mostrou que a coisa não passava de luta pelo poder, por domínio e dinheiro.
Ao longo da História, sempre houve avatares, espíritos ascensionados, como Buda e Jesus Cristo, ou os grandes cientistas da Grécia clássica, entrando pelo Renascimento e pela informática. Mas foi no século XIX que houve a explosão do espiritismo, a consciência de que somos seres espirituais; hoje, os títulos com esse tema tomam conta de um bom pedaço das estantes das livrarias.
Neles, há informações, inclusive endossadas pela ciência, de que viemos de uma consciência sem início e sem fim, onipresente, que costumamos chamar de Deus, e que retornaremos a Ele.
Cientistas já tentaram criar a sopa primordial para ver se dali surgiria vida, mas não surgiu nada, pondo por água abaixo o evolucionismo. Nossos corpos são fruto de inteligência artificial de engenheiros siderais; usamos esses corpos como escafandros aqui na Terra. No fim das contas, todos são espíritos. A diferença, aqui neste mundo material, é que uns acreditam que são matéria mesmo, enquanto outros desenvolvem sua mediunidade e assim utilizam com sabedoria o livre arbítrio.
Desde sempre fazemos estas perguntas: De onde viemos? Para onde vamos? Entre uma e outra, permeia a existência humana. Aos poucos, principalmente a literatura e o cinema, vão entendendo, às vezes na diagonal, como em Origem, que nossos corpos nada mais são do que ciborgues, configurados pela família, pela religião, pela academia e pelo patrão. Há até profissionais nessa área: são os coachings, que preparam o trabalhador para virar escravo.
Se Origem não é literatura canônica, e nem é um dos melhores momentos de Dan Brown, é um tour por um dos países mais encantadores da Europa: a Espanha. E uma crônica do pós-modernismo. Nele, temos a sensação de que o homem não vive mais sem a máquina; ninguém larga o telefone celular