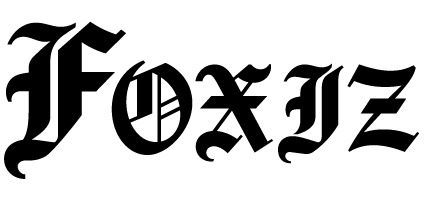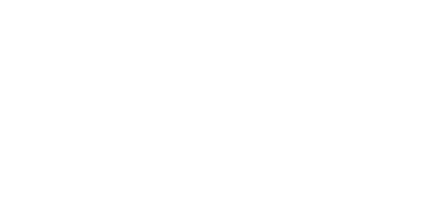Por Nasim Ahmed – Nasimbythedocks – Israel há muito difunde uma narrativa de se tratar de vítima para justificar seus crimes com impunidade. Essa construção retórica meticulosamente construída retrata o Estado ocupante como uma nação pequena, vulnerável e constantemente ameaçada por vizinhos hostis. Embora sua falaciosa autocomiseração seja promovida por diversos líderes israelenses, poucos hastearam essa bandeira tão orgulhosamente quanto uma primeira-ministra que, certa feita, descreveu a si mesmo como “palestina”: Golda Meir.
Conhecida como a “Dama de Ferro do Oriente Médio”, Meir era conhecida por comentários amargos e frequentemente racistas, combinando sentimentos antipalestinos com um sentimento de vitimização bastante entrincheirado na ideologia política do regime sionista de Israel. Sua infame declaração, “Não podemos perdoar os árabes por matar nossas crianças, mas jamais podemos perdoá-los por nos obrigar a matar as suas”, bem incorpora tanto um senso de autopiedade faccioso quanto a culpabilização da verdadeira vítima — conjunto de forças que exerceu e ainda exerce um papel fundamental na ocupação sionista da Palestina histórica e na limpeza étnica e no deslocamento de suas comunidades muçulmanas, cristãs e não-judaicas em geral.
Tais declarações refletem um nítido olhar racista sobre o mundo; contudo, em Israel, foram abraçadas como as palavras de uma liderança nobre. Embora pareça óbvio, é preciso destacar que ninguém obriga Israel a matar crianças, como sugeriu Golda Meir. Israel, assim como qualquer outro país, tem de ser responsabilizado por suas próprias ações.
Não surpreende, porém, que a cinebiografia de Meir tenta minimizar o legado de violência e racismo deixado pela quarta chefe de governo do Estado sionista. Golda foi lançado no Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF) em setembro passado e chegou aos cinemas do Reino Unido nesta semana. Protestos foram convocados contra o longa-metragem, que busca omitir ou mesmo justificar os crimes supremacistas perpetrados por Meir. Helen Mirren interpreta a protagonista — primeira e única mulher a governar Israel, com foco em sua liderança durante a guerra de outubro de 1973.
Dizer que a resposta da crítica foi controversa seria dourar a pílula. Não apenas é “perturbadoramente tedioso”, como descreveu uma resenha, como “carece de vida”. O Bad Movie Reviews, canal do YouTube dedicado a analisar filmes considerados de baixa qualidade, descreveu Golda como “limitado” e “unidimensional”. Críticos condenaram tanto a direção de arte quanto o discurso político imbuído no roteiro. “Somente arranha a superfície”, observou o The Washington Post. De fato, o espectador fica sem saber que Egito e Síria decidiram avançar contra o Estado sionista devido à ocupação militar de seus territórios — a península do Sinai e colinas de Golã, respectivamente —, o que certamente agregaria complexidade e precisão factual à narrativa.
Ao atenuar o legado destrutivo de Meir, a obra parece mais interessada em exaltar sua imagem de suposta “heroína” e “ícone feminista” aos olhos de admiradores em Israel e no Ocidente. Uma representação mais intelectualmente honesta poderia indagar como a retórica de desumanização adotada por Meir justificou sua opressão contra os palestinos.
A biografia de Meir segue um arco comum aos primeiros colonos sionistas na Palestina histórica. Golda Meir nasceu em 1898 na Ucrânia contemporânea; ainda menina, sua família migrou aos Estados Unidos e se assentou em Milwaukee. Após se casar, ela e o marido deixaram o país rumo à Palestina sob Mandato Britânico, em 1921, com intuito de participar dos esforços movidos pela causa colonial sionista. Sua carreira política decolou paralelamente ao projeto de colonização das terras palestinas. Meir ganhou proeminência enquanto se criava o Estado de Israel, graças a atos terroristas, numerosas chacinas e massacres e a violenta expulsão em massa de 750 mil palestinos em 1948 — ocasião que se tornou conhecida em árabe como Nakba, ou “catástrofe”.
Identificada como sionista socialista, Meir foi ministra do Trabalho e de Relações Exteriores antes de chegar a primeira-ministra. Sua jornada tipifica as primeiras ondas de colonos sionistas que migraram à Palestina, sobretudo da Rússia e do Leste Europeu, com a intenção de deslocar a população árabe nativa e estabelecer um etnoestado judeu. Meir está intrinsecamente ligada, portanto, às raízes da opressão colonial sionista contra os palestinos.
Embora muitos dos primeiros colonos tenham abraçado posições racistas, Meir se destacou por sua franqueza em negar absolutamente a identidade e os direitos nacionais à autodeterminação do povo palestino. Meir chegou ao ponto de dizer que a Palestina e os palestinos simplesmente não existem, ao consolidar uma perigosa narrativa ainda prevalente. Sua retórica taxativa a distinguiu mesmo das agressivas lideranças sionistas de sua época. Ironicamente, essa primeira-ministra “de esquerda” ajudou a nutrir no establishment político a mesma ideologia exclusivista hoje empregue pela ascendente extrema-direita de Israel. Meir emprestou um verniz de legitimidade à concepção repugnante de que os palestinos nativos seriam não-entidades invisíveis sem qualquer reivindicação a suas terras ancestrais.
“Quando foi que houve um povo palestino independente com um Estado palestino?”, costumava indagar Meir, ao apagar quatro milênios de história e expor a lógica de limpeza étnica e memoricídio que compõe os alicerces do movimento sionista. “Não é como se existisse um povo palestino na Palestina e então viemos e expulsamos eles, e roubamos seu país. Eles não existem”. Muito pelo contrário, não havia povo israelense antes do estabelecimento do Estado de Israel, em 1948, apesar de uma identidade contínua palestina — multifacetada e multirreligiosa — de quatro mil anos.
Apagar a Palestina e seu povo do mapa é a vocação primária do Estado de Israel. Sionistas europeus, como Meir, não tinham a menor ilusão de que instaurar um Estado etnonacionalista e supremacista judaica em um território onde os judeus eram então uma minoria prescindiria de extrema violência, vandalismo cultural e religioso e plena exterminação de uma história milenar com laços profundos com o tecido eclético de toda a região. Na virada do século XIX a XX, judeus palestinos nativos eram apenas 5% da população dos territórios ocupados. Os outros 95% eram cristãos e muçulmanos, entre outras comunidades menores porém ancestrais.
Como se não bastasse, a própria Meir reconheceu suas supostas raízes palestinas, ao declarar retoricamente em entrevista concedida à televisão britânica: “O que era toda essa área antes da Primeira Guerra Mundial? A Palestina ficava entre o Mediterrâneo e a fronteira iraquiana … Ambas as margens do Jordão eram a Palestina. Eu sou palestina”. Meir observou ter um passaporte palestino sob o Mandato Britânico. Na época, Meir compreendia uma pequena minoria demográfica na Palestina. Enquanto europeus sionistas como ela buscavam criar um Estado supremacista judaico, alheio à Palestina, foram muçulmanos, cristãos e judeus não-sionistas — a população nativa — que reivindicaram a luta por independência do Reino Unido em um Estado secular a todos os cidadãos.
Os comentários francos de Meir não somente expõem a natureza contraditória do projeto sionista, como traem o mito de “terra sem povo para um povo sem terra”. De fato, a Palestina jamais foi uma terra vazia à espera de judeus estrangeiros que fizessem “o deserto florescer” — outro mito colonial sionista. Sua vida incorpora a inversão colonialista da realidade, tão necessária ao projeto político sionista. Golda busca minimizar todo e qualquer aspecto negativo de seu personagem, fazendo-nos refletir por que os profissionais envolvidos nessa produção cinematográfica, incluindo Helen Mirren, sentiram-se inclinados a sacrificar sua imagem em nome da propaganda de Israel.
Originalmente publicado no MEMO
As opiniões expressas neste artigo são de responsabilidade do autor e não refletem necessariamente a política editorial do DC – Diário Carioca.