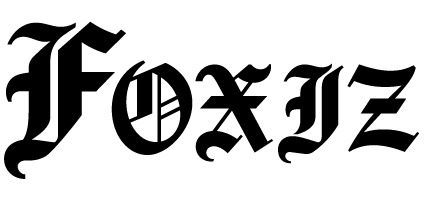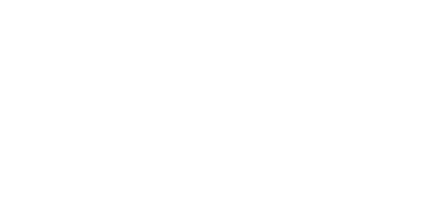Em 19 de junho de 1898, o italiano Alfonso Segreto voltava ao Brasil de uma viagem a Europa, onde foi adquirir equipamentos de filmagem. A bordo do navio francês Brésil, ele resolveu captar imagens da Baía de Guanabara na chegada ao Rio de Janeiro. O gesto do rapaz de 23 anos acabou se tornando a primeira filmagem realizada no país e, tempos depois, passou a marcar o Dia do Cinema Brasileiro.
Da lá para cá, a sétima arte nacional se construiu com reinvenções constantes, a maior parte delas em resposta a crises, desvalorização e falta de financiamento. Por cerca de dez anos, Segreto e seus irmãos captaram imagens cotidianas, fatos políticos, paisagens e ensinavam técnicas cinematográficas ao que viria a ser a primeira geração de realizadores do país. O primeiro grande desafio dos que se aventuraram era básico: em muitos lugares não havia nem mesmo energia elétrica para criação de salas de cinema e a consequente formação de um público.
O obstáculo do início do século passado criava um problema que persiste: cinema não é apenas produção, precisa chegar a algum lugar. A história da sétima arte no Brasil está certamente ligada a dificuldades financeiras, tentativas ideológicas de enfraquecimento e a busca de superar a linguagem pasteurizada hollywoodiana. Mas o desafio mais persistente é derrubar o senso comum equivocado de que o país não gosta de ser ver nas telas.
O pesquisador Hernani Hefner, que atua na área de conservação da Cinemateca do Museu de Arte Moderna (MAM Rio), explica que o discurso é antigo e já serviu a interesses diversos (confira o áudio com a entrevista na íntegra abaixo do título da matéria). No início do século passado ele complementava e reforçava a invasão hollywoodiana, incentivada pela isenção de impostos no Brasil. Hoje embasa a narrativa de um governo conservador, amedrontado frente à possibilidade de consolidação e celebração da identidade diversa do povo brasileiro.
“Os interesses maiores estão aí desde sempre – sejam os interesse da grande indústria hollywoodiana, sejam os novos interesses do streaming , que não abre espaço para a produção local em pé de igualdade – e o acesso ao mercado continua muito restrito, para não dizer quase mínimo. Tudo isso está aí, mas agora perpassado por uma rejeição radical dessa expressão artística, tomada pelo atual governo como algo que não serviria à população. Tudo isso a partir da própria fala do governo. Não há um consenso geral na nação a respeito disso”
Tudo isso está aí, mas agora perpassado por uma rejeição radical dessa expressão artística, tomada pelo atual governo como algo que não serviria à população.
A falácia no discurso de que brasileiros não gostam do próprio cinema é derrubada pelos resultados dos períodos em que houve um mínimo de incentivo à produção e à diversidade. Os financiamentos municipais, estaduais e federais, construídos e reforçados a partir do início dos anos 2000, impulsionaram um movimento de verdadeiros fenômenos. Cidade de Deus, Carandiru, Tropa de Elite, Dois Filhos de Francisco, Se eu Fosse Você, Que Horas ela Volta e Bacurau compõem a lista de provas de que não há autorrejeição à identidade nacional nas telas.
Clássicos do cinema nacional: Cidade de Deus (2002), Terra em transe (1967) e A hora da estrela (1985) / Divulgação
O brasileiro nas telas nacionais
Superada a percepção de que o brasileiro não gosta do cinema produzido no Brasil, a luta ainda é árdua. No entanto – e ironicamente –, algumas das características mais marcantes da produção nacional, foram forjadas justamente em resposta a tentativas de desmonte. “Sem dúvida nenhuma, a história do cinema brasileiro é marcada por uma sucessão enorme de crises, mas também por uma resiliência espantosa, extraordinária”, afirma Hernani Hefner.
Se na época de Alfonso Segreto o obstáculo era a falta de tecnologia básica para a produção, algumas décadas depois o enfraquecimento da produção local teve relação direta com a invasão de filmes estadunidenses. A consolidação da indústria hollywoodiana, que contou com incentivo governamental consistente no país de origem, foi definidora para sufocar iniciativas locais.
O cenário começou a mudar timidamente na década de 1930,com a criação da Cinédia, primeiro grande estúdio brasileiro. De lá saíram clássicos como Limite (Mario Peixoto, 1931) e Ganga Bruta (Humberto Mauro, 1933). Mas os resultados de bilheteria não chegavam nem perto do alcance das produções estadunidenses. A narrativa romantizada de Hollywood influenciava fortemente a produção local. Em 1942, por exemplo, as salas de cinema só receberam um lançamento brasileiro entre as centenas de estreias estrangeiras do ano.
Os sucessos de público vieram nos anos seguintes com a criação de dois estúdios: a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, em São Bernardo do Campo (SP), e a Atlântida Cinematográfica, no Rio de Janeiro (RJ). A primeira foi responsável pelas comédias de Mazzaropi, totalmente focadas na identidade e na vivência do homem do campo brasileiro. A segunda reunia nomes como Grande Otelo, Oscarito e Anselmo Duarte em comédias musicais de custo baixo, que ficaram conhecidas como chanchadas. A influência do cinema estrangeiro ainda era presente, mas as temáticas e personagens já indicavam que se ver na tela era o primeiro passo para que o brasileiro se interessasse pelo cinema local.
Sem apoio governamental consistente e sem política forte de incentivo, a bilheteria e o investimento privado não foram capazes de garantir a existência das duas produtoras. Enquanto nos Estados Unidos, a indústria conta com estúdios centenários, no Brasil as duas primeiras grandes empresas da sétima arte foram extintas por falta de dinheiro e esgotamento de fórmulas e narrativas.
Cena do filme “O corintiano”, de 1967, estrelado por Mazzaropi e dirigido por Milton Amara /Reprodução/TV Brasil
Revolução e contrarrevolução
Pela primeira vez, a reação foi consciente. O Cinema Novo e o Udigrude, movimentos surgidos nas décadas de 1950 e 1960, traziam questionamentos diretos ao formato estadunidense. A partir deles, o Brasil começou a contar histórias permeadas por elementos sociais e que rejeitavam a estética romantizada. A falta de dinheiro e apoio era aspecto central, resumido na máxima de Glauber Rocha “uma câmera na mão e uma ideia na cabeça”.
Foi justamente para combater os movimentos contestatórios, que surgiu a primeira iniciativa governamental para incentivo ao cinema. Criada pela ditadura militar, a Empresa Brasileira de Filmes (Embrafilme), financiava uma produção que passava pelo crivo da censura. Se o primeiro órgão governamental para o cinema brasileiro surgiu para controle da narrativa, não é de se estranhar que até hoje, governos usem o financiamento (ou a falta dele) para tentar ditar a linguagem.
O filme “Deus e o diabo na terra do sol” (1964), de Glauber Rocha, retrata a vida sofrida no sertão brasileiro marcado pela seca / Reprodução
Aconteceu na década de 1990, com a extinção da Embrafilme por Fernando Collor de Melo, a partir do Programa Nacional de Desestatização e se repete agora, com Jair Bolsonaro (sem partido) e o enfraquecimento das instituições de financiamento, fomento e apoio. O primeiro golpe veio com o fim do Ministério da Cultura, já no início do governo. Os ataques do capitão reformado à produção nacional dão o tom do desmonte. Jair Bolsonaro chegou a dizer que produções com temáticas sobre minorias não receberiam verba pública.
O cinema brasileiro está sufocado.
Os recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) de 2018 para projetos já contratados estão parados. O governo vem vetando projetos em editais e o FSA sofreu um corte de 43% no orçamento. Mais recentemente, uma Instrução Normativa da Ancine determina que todo material de divulgação das obras financiadas com dinheiro público deve trazer a bandeira nacional. Quem não cumprir a determinação está sujeito à multa. A produtora Carla Francine, conselheira da Associação Brasileira de Produtoras Independentes (API), classifica o cenário como sufocante.
“O cinema brasileiro está sufocado. A gente tem uma série de atitudes desse governo que apontam para um desmonte de uma política montada há muitos anos. Existe um entendimento no mundo todo de que o cinema é uma indústria, mas que também tem outras dimensões e por isso deve ser incentivado. Eu digo sufocado por conta de todo o cenário que a gente tá vivendo de sucessivas tentativas de barrar o crescimento que vinha acontecendo.”
As pessoas têm mais ferramentas pra contar suar narrativas. Isso é uma coisa que assusta as pessoas que não são democratas.
Na percepção da produtora, o principal motivo para o desmonte é a percepção de que um povo que tem suas manifestações culturais censuradas é mais fácil de controlar.
“Nós somos cronistas de uma época e essa pessoa [Jair Bolsonaro] não quer se ver representada pelos olhares de tantas pessoas que existem no Brasil hoje em dia fazendo cinema. A gente tem uma situação no mundo todo em que as pessoas têm mais ferramentas pra contar suar narrativas. Isso é uma coisa que assusta as pessoas que não são democratas.”
Por mudanças estruturais
O setor se une frente ao desmonte, em movimentos diversos e que refletem o fortalecimento observado nos últimos anos, inclusive em suas contradições. Apesar de ter vivenciado um período em que fomento, produções e público pareciam se fortalecer, a inclusão não alcançou todos os grupos e ainda era dominada por uma classe média, branca e com acesso econômico à formação e tecnologias.
Na periferia quem tem 16, 17 anos e não coloca dinheiro em casa é vagabundo. Como eu posso fazer cinema sem dinheiro e botar dinheiro em casa?
Ainda assim, é o cinema de periferia, preto, feminino e diverso que fortalece as reações. “Meio que a gente tem que carregar o piano agora, né?”, questiona o cineasta Adirley Queirós.
Criado em Ceilândia, região periférica do Distrito Federal, ele é responsável por produções que têm como principal característica uma fidelidade extrema à realidade da comunidade que retrata, independentemente do enredo. O reforço dessas produções estava em andamento, na opinião dele, mas ainda longe de um patamar ideal. Houve uma janela que não foi aproveitada e não foi totalmente inclusiva.
O cineasta afirma que isso vem da percepção de que a produção das minorias se faz sem dinheiro, com pouco financiamento e estrutura. “Ninguém faz filme sem dinheiro. Me irritava muito, em alguns festivais que eu frequentava o termo ‘cinema de brodagem’. De onde eu venho, a gente não consegue se juntar em brodagem para comprar uma câmera! Isso é uma perversidade. Brodagem não é política pública de cinema”, relata.
“Quando a gente fala em cinema, se alguém saiu da sua casa e foi fazer um filme, tem um capital ali, tem uma mais valia, a pessoa está aplicando a força de trabalho. Quando ela não recebe, a gente cria um histórico, que parece que a periferia pode fazer filme sem dinheiro. Na periferia quem tem 16, 17 anos e não coloca dinheiro em casa é vagabundo. Como eu posso fazer cinema sem dinheiro e botar dinheiro em casa?”, questiona Queirós.
Cena do filme “Branco sai, preto fica” (2014), de Aldirley Queirós / Reprodução
Potencial de transformação
Mesmo que a inclusão não tenha sido suficiente, o cineasta ressalta que o setor precisa defender o fomento e instituições como a Ancine. “Nós periféricos, que historicamente fomos alijados desse processo todo, não podemos deixar de jeito nenhum que isso acabe”, afirma de maneira enfática.
O estado tem a função de incluir as classes que não foram privilegiadas.
“A Ancine tinha a possibilidade e a potencialidade de incluir as questões periféricas, territoriais, de classe, raça e de gênero. De certa forma, em muitos editais, ela veio promovendo isso. Isso seria uma revolução de produção no Brasil e o governo deveria continuar com essa política pública. Porque além de empregar pessoas e dar possibilidade para outras narrativas, ele cria um processo muito grande de identidade e uma reflexão do que é o Brasil. Agora, o modelo que fica preocupado com mercado é perigoso. Porque o estado tem a função de incluir as classes que não foram privilegiadas. Todas as comunidades que estiveram historicamente fora de um cinema arquetípico brasileiro, que é um cinema feito por homens brancos.”
A percepção não é só de Adirley. A diretora e produtora Viviane Ferreira diz que a falta de inclusão permeou mesmo os momentos mais produtivos e de maior incentivo. “A política de audiovisual que foi construída no país, estava sendo construída ignorando 54% da população.”
Viviane cresceu em Coqueiro Grande, periferia de Salvador. O senso de comunidade foi essencial para toda sua formação. Aos 19 anos, no início dos anos 2000, migrou para São Paulo (SP), onde estudou direito e cinema, com auxílio de políticas de financiamento estudantil e de bolsas institucionais. Fundou a Odun Filmes e atua na Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro (Apan).
A trajetória da cineasta foi acompanhada de todas as mudanças sociais que aconteceram no Brasil nos últimos vinte anos, mas que não foram suficientes para extinguir problemas históricos brasileiros, que reforçam até hoje o racismo e a desigualdade. Para Viviane, um movimento de retomada é impossível sem mudanças radicais nessas questões.
O antigo normal, para nós, não estava bom.
“Você tem uma geração que precisou fazer aliança com todos os movimentos. Mas quando essa geração de homens brancos de esquerda acessa a estrutura do Estado, eles preferem governar para homens brancos. Porque para eles era suficiente ser de esquerda e assumir uma retórica progressista. Eu não consigo olhar para a minha trajetória sem falar desse vácuo das omissões. A gente seguiu sofrendo os efeitos de omissões do nosso campo.”
Com discurso forte, ela é taxativa. “O que tem de novo no cenário agora é que a gente está falando ‘beleza, rolou uma procuração lá atrás para que vocês dessem conta de todos nós. Só que agora essa procuração foi revogada!’ Porque o antigo normal, para nós, não estava bom.”
As palavras de Viviane dão o tom do desafio que está muito longe de ser uma luta apenas contra o governo atual. Enquanto o desmonte cruel de Bolsonaro é combatido, a exclusão histórica e a desigualdade de acesso não podem ser perdidos de vista.
“O que algumas pessoas ainda não entenderam é que a medida que a gente resolve os nossos problemas, resolve o de todo mundo. A gente sabe como resolver parte do problema, mas parte disso mexe profundamente na estrutura. E a gente não está mais pedindo para deixarem a gente acessar isso. A gente está tomando os espaços.”
Edição: Rodrigo Chagas