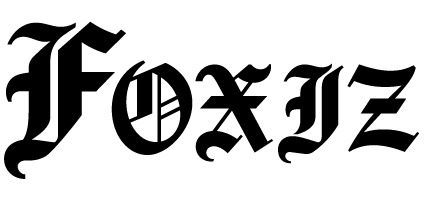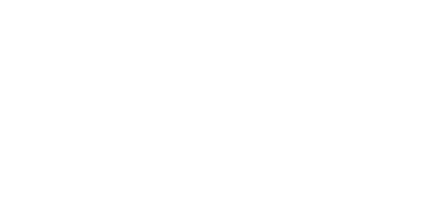Três mulheres, três histórias, três heranças culturais. Dona Cadu, Dona Marciana e Dé Kariri Xocó não se conheciam. Uma baiana, outra amapaense e outra alagoana, elas saíram de suas casas para se encontrar esta semana no Sesc 24 de Maio, no centro de São Paulo. Ali, além de um bate-papo, foi exibido filme contando a história de cada uma. O que as uniu foi uma arte que aprenderam desde meninas e que esta semana elas vieram transmitir aos paulistanos: a ciência de transformar o barro em belas louças e cerâmicas.
“Estamos colegas agora”, contou a centenária dona Cadu. É com as mãos que elas vão moldando cada peça, como uma extensão de seus corpos. E é com as mãos que elas sustentam a casa: repetindo o que já fizeram suas antepassadas.
“Para mim e para o meu povo Kariri Xocó, ele [esse trabalho em cerâmica] representa uma coisa muito boa. Minha mãe teve 18 filhos. Criou esses 18 filhos com o barro, trabalhando na cerâmica. Igualmente eu, que só tive quatro [filhos]. Também ajudei a minha mãe a criar meus irmãos com a cerâmica. Me sinto muito orgulhosa de eu ser uma louceira de cerâmica”, contou Dé, à reportagem da Agência Brasil.
Sentadas lado a lado, aguardando o momento em que iriam se apresentar ao público do Sesc 24 de Maio, as três louceiras contam que foram pelas mãos de outras mulheres que receberam essas bençãos. E é por suas mãos que agora elas estão repassando essa mesma tradição para outras gerações de mulheres. “Eu já passei [essa técnica] de geração para geração. Minha filha faz, minha neta faz, minha bisneta faz. Essa é uma cultura para nós do estado do Amapá”, disse Marciana.
Dona Cadu Foi ainda menina que Ricardina Pereira da Silva, a dona Cadu, de 103 anos, que ainda carrega o sorriso e disposição de menina, aprendeu a arte e o ofício de fazer louças. Moradora de Coqueiros, em Maragogipe, na Bahia, ela é louceira há 93 anos. Mostrando o muque nos braços para falar sobre o trabalho doloroso e difícil dessa técnica, dona Cadu contou como iniciou os trabalhos em cerâmica.
“Desde a idade de 10 anos [faço as louças]. Aprendi com uma senhora do sertão porque nasci e me criei em São Félix. Essa senhora chegou do sertão, da roça. Era chão velho, mas era roça. E aí ela sabia fazer. Eu todo dia ia doida para aprender. Todo dia eu pegava um molhinho do barro e levava para a casa de meus pais para fazer brinquedos. Mas eu estava pensando que ela não estava vendo eu levar o barro. Mas ela estava vendo. E ela me perguntou: ‘você quer aprender?’. Eu disse que queria. Com 15 dias que eu estava trabalhando com ela, eu já estava fazendo melhor do que ela. E aí fui trabalhar na casa dos meus pais”, recordou ela.
Dona Cadu, de 103 anos, começou ainda menina no ofício. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Mas dona Cadu não conseguia viver só dessa arte. Teve que trabalhar duro – e muito – para conseguir sustentar a casa. “Eu trabalhava no barro, na roça e na pedreira, quebrando brita. E nisso me criei. Me casei com 22 anos e fui para Maragogipe. Saí de São Félix e fui para Maragogipe. E lá até hoje estou”, disse ela, reforçando que nunca parou de amassar o barro.
“Não, minha filha, eu tenho que trabalhar. Isso aqui significa muita coisa. É disso que eu vivo. Estou nessa idade, mas ainda trabalho para sobreviver. Um salário só não dá para a gente viver não. Meu marido faleceu e eu não recebo a pensão dele. Me aposentei pelo fundo rural, porque eu trabalhava na roça. Aí eu tenho que trabalhar. Tem dia que eu estou cansada e penso: ‘hoje eu não trabalho’. Mas às vezes eu penso: ‘eu trabalhando e fazendo uma ou duas peças já está bom’. Aí eu trabalho”, disse ela.
Dona Cadu acorda cedo todos os dias na palhoça de dormir. Mas essa palhoça não é onde ela fica o dia todo. Seu lugar mesmo é a palhoça de trabalhar, para onde segue todos os dias para produzir mais de 10 peças [por dia], que depois ela vende para restaurantes.
“Eu tenho a palhoça de dormir e a de trabalhar. Ela [a neta] me leva uma mingauzinho e eu tomo. Mais tarde, ela diz: ‘vó, vambora comer’. E eu digo: ‘eu não estou com fome ainda não’. E ela: ‘a senhora vai comer é agora para não ficar fraca’. Se ela deixar, eu fico lá até à noite. Mas ela não deixa”, contou.
Até bem pouco tempo, ela ainda se sentava ao chão para confeccionar as peças. Mas uma queda, que a fez quebrar o fêmur, a impediu de continuar dessa forma. “Eu sentava no chão. Esses tempos é que eu não estou podendo mais sentar no chão porque eu caí na porta e quebrei o fêmur. Aí eu sento num banco para poder arranjar um tostãozinho. Eu moro com a minha neta e eu digo para ela: ‘quero fazer meu bolinho de barro’. E ela: ‘vó, vai te aquietar. Como é que tu te senta no chão, vó?’. Aí eu digo: ‘eu não vou sentar no chão não. Me bota em um banquinho assim que eu trabalho’. E aí me fizeram um banquinho e uma mesinha e eu boto o seco em cima da mesa e fico rodando a tábua’’, afirmou ela.
Para conseguir o barro, a centenária mulher precisa comprá-lo “da mão dos que têm fazenda”. E paga caro por isso. “Uma caçamba custa R$ 2 mil”, avaliou ela. Mas antigamente, as coisas eram ainda mais difíceis. “De primeiro, o barro a gente pisava. Era pisado. Eu criei muque, olha [ela mostra os braços], de fazer força para pisar no barro e trabalhar. Mas depois a gente coloca na rua, os carros vão passando e vão pisando o barro. E aí eu já ponho pisado para dentro de casa. Isso já facilitou. Mas, de primeiro, era pisado com tronco de pau”, narrou.
Essa ciência do transformar o barro em cerâmica ela já transmitiu para muita gente. Continua ensinando isso até hoje. “O povo estranho que chega e me pede para eu ensinar, eu ensino. Não é fácil, não. Só vendo trabalhar para saber que não é fácil. Teve um senhor daqui [de São Paulo] que, na quinta-feira passada, esteve lá na minha casa [na Bahia]. Aí eu estava trabalhando e ele ficou doido: ‘Dona Cadu, a senhora me ensina?’. E eu respondi que sim. Ele disse que ia passar uma semana na minha casa para aprender a fazer”, ela gargalha.
Detentora de saberes e fazeres ancestrais, Dona Cadu recebeu dois títulos de Doutora Honoris Causa outorgados pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).
Se não garantiu seu sustento, o trabalho com as louças ao menos a fez viajar por vários cantos do Brasil. “Já viajei. Já fui até em Curitiba. O governador de lá me mandou buscar lá na minha casa para eu fazer uma exposição para ele ver. Eu fui e ele gostou tanto que eu fui para passar três dias e eu passei oito dias”, conta ela, gargalhando.
Dona Cadu também viaja pelo Brasil para mostrar não só suas louças, mas o seu samba. “Eu tenho um grupo de samba, que eu não sou boba. Eu era nova e gostava dessas folias. Até que, enfim, que a casa do samba, em Santo Amaro, me cadastrou no samba. Tenho meus instrumentos dentro de casa. Mas agora nunca mais sambei por causa da perna, que eu tenho medo. Já fui até Curitiba, no Paraná, com meu sambinha. Vamos nós duas sambar. Quem sabe, minha filha?”, ela convida a repórter.
E é cantando e sob o batuque das palmas, que ela encerra o bate-papo com a reportagem. “Chegou dona Cadu, do queimador de louça. Quando o vento bate, balança a sua roupa. Balança sua roupa, balança sua roupa. Chegou dona Cadu, do queimador de louça’. E eu fico toda fofinha”, acrescentou ela.
Dé Dé Kariri Xocó, 66 anos completados nesta semana, vive na Aldeia Kariri Xocó, em Porto Real do Colégio, em Alagoas. Assim como as companheiras que conheceu em São Paulo, ela começou a trabalhar a cerâmica com apenas sete anos. Os primeiros potes que fez logo que começou a amassar o barro foram “um pote e uma panela”. “Comecei a fazer pequeno. Depois já comecei a fazer grande, grande, grande. E agora faço de todo tamanho”, revelou.
Dé Kariri Xocó, da aldeia Kariri Xocó em Alagoas,no Encontro de Louceiras. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
“Quem me ensinou a fazer foi minha avó. Tanto que até hoje eu continuo a fazer. E ensinei. Tenho duas irmãs, que já sabem fazer há tempos. E agora eu estou ensinando minha filha e duas netas. Elas vão para a escola e, quando chegam, elas dizem: ‘vovó Dé, eu quero fazer pote’. E eu digo: ‘então, venham para cá’. E ela vem, senta mais eu, eu dou o bolinho de barro a ela e ela começa a fazer uma coisinha. Eu estou esperando ela [a neta] e minha filha ficarem no meu lugar”, afirmou.
Os potes, conta Dé, são parte de sua vida. Tarefa que ela desempenha do nascer ao anoitecer. “Eu me levanto da cama, escovo o lombo e vou correndo para o barro e para os potes. Quando é a noite, estou alisando, raspando e movimentando o barro”.
Essa argila, diz Dé, não é só parte de sua vida ou seu sustento. Ela já está impregnada em seu corpo. “Quanto mais eu estou apegada ao barro, mais eu estou sentindo coragem no meu corpo. Estou sentada fazendo a minha louça, chega a hora de eu almoçar e minha nora me chama: ‘Dé, venha almoçar’ E eu respondo: ‘vou já, vou já mulher’. Mas eu gosto tanto, que me passa a vontade de comer e de almoçar. E aí, com o cachimbo na boca, fumando, isso é minha resistência. Eu sinto que ele me dá resistência”, explicou.
Conseguir o material para fazer as peças não é um problema em sua comunidade. “Na minha aldeia não é [difícil de conseguir o material]. Só que eles são muito profundos. Para a cerâmica do pote, para nós tirarmos ele [barro], temos que cavar três camadas. Na quarta [camada] que ele dá o positivo. Se eu tirar naquelas três camadas, quando eu vou fizer o pote, eu não levanto ele. Ele fica só querendo cair. Na quarta [camada] é que eu tiro ele e aí eu trago ele positivo. Assim é na panela também”, acentuou.
O difícil é arranjar comprador para as peças. “Na nossa aldeia está faltando. Não tem comprador para vir comprar direto”, disse.
Enquanto enfrenta esse problema de falta de comprador, Dé vai mantendo a tradição, que aprendeu de menina. “Nós não podemos parar. Não podemos acabar essa tradição. Não podemos parar porque essa é uma tradição de nós, índias”, externou.
Marciana Marciana Nonata Dias tem 82 anos e vive no Quilombo Santa Luzia do Maruanum, em Macapá (AP). Sua história se assemelha a de muitas louceiras desse Brasil.
Dona Marciana, do quilombo Maruanum em Macapá, participa do Encontro de Louceiras. Foto – Rovena Rosa/Agência Brasil
“Comecei a trabalhar a argila com dez anos. Minhas tias todas faziam artesanato. Eu e minha prima pegávamos o barro delas e fazíamos [as peças] escondidas. Elas não gostavam [quando] a gente pegava o barro. Mas a gente tirava e fazia escondido. Depois de casada – casei com 22 anos – minha comadre me convidou para fazer artesanato com ela. Eu me dediquei para a casa dela e fazia artesanato com ela. E hoje estou passando isso de geração para geração”, disse.
No quilombo onde vive, o trabalho com o barro reúne toda a comunidade e funciona também como um ritual, uma devoção à Mãe do Barro, a guardiã do barreiro de onde se extrai a argila. “Hoje são 20 louceiras na comunidade quilombola. Os homens vão para dentro da mata para tirar os paus e cavar a argila. A gente vai para o lago. Chegando lá, a gente escolhe o lugar para tirar o barro, despede-se da Mãe do Barro e aí vamos tirar o barro. Precisa tirar quatro camadas de terra para chegar no barro. Eu mando que eles cavem bem no meio do buraco. Eles escavam. E quando puxam o ferro, já está no barro. Eles limpam o barro, nós forramos com o plástico e eles vão jogando aquela argila para nós, para cima. A gente pega aquela argila, vai amassando e colocando em uma saca de plástico. E aí cada uma de nós faz uma pecinha para oferecer para a Mãe do Barro”, recordou ela. Desse ritual só não podem participar as mulheres gestantes, grávidas e menstruadas.
Dessa tradição é que vem o sustento de sua comunidade. “Nossa tradição é importante para a nossa comunidade por causa da renda. Só a aposentadoria e a cultura da mandioca não estão dando”, confessa.
Diferentemente de Dona Cadu, Marciana não tem dificuldade para encontrar o barro. “O barro não é difícil para nós porque lá na nossa comunidade tem três quilombolas que têm terreno. O que é mais difícil para a gente é o caripé (árvore cuja casca é transformada em cinzas e depois utilizada para a confecção de cerâmica) e a jutaicica (resina do jutaí, usada para dar lustro [brilho] a louças de barro)”, contou ela.
As peças produzidas no quilombo são vendidas em feiras e em casas de artesanato. Ela também vende peças em sua casa ou por encomenda. “Não tendo outro serviço para fazer, eu faço três ou quatro peças por dia. Faço panela, xícara, caneca”, detalhou.
Sua rotina começa bem cedo, assim como a de dona Dé e dona Cadu. “Eu me levanto às 7h, tomo meu banho, tomo meu café e vou trabalhar. Tenho a minha casa de dormir e a minha casa para fazer as peças. Só saio de lá quando me chamam para almoçar”, disse ela. “Quando a minha neta me chama para eu comer, eu falo ‘deixa eu terminar, que depois eu vou almoçar’. E só quando eu termino é que eu vou almoçar. E logo quando termino de almoçar, já estou fazendo minhas peças de novo”, destacou.
Para dona Marciana, o trabalho com as louças é importante não só para o sustento de sua comunidade. “Essa cultura vai passando de geração em geração para a gente não deixar a nossa cultura morrer”, sintetizou.
Coincidente Três mulheres. Três tradições. Três formas de amassar o barro. “É muito diferente [o trabalho das três]. O meu é feito o prato, rolado o barro para fazer o pavio para fazer as peças. Da minha tia véia [ela aponta para dona Cadu], ela faz assim [batendo a mão]”, exemplificou Marciana.
Dé, Cadu e Marciana podem ter suas diferenças nessa arte. Mas elas se parecem não só na forma do trabalho como também em como se relacionam com ele. “Quando estou longe do barro fico triste e adoeço”, finalizou Marciana.
Dona Cadu também sofreu ao ter que ficar longe do barro por algum tempo devido a uma queda em que quebrou o fêmur. “Eu levei dois anos e mês sem pegar em um bolo de barro. Como eu não fiquei, hein? Acho que fiquei mais doente porque eu estava sem trabalhar”, disse ela.
As louças feitas com barro são uma tradição para diversas mulheres e diversas comunidades e territórios do Brasil. Do norte ao sul do país, louceiras produziram e produzem panelas, caldeirões, pratos e outros utensílios. Esses objetos carregam em si as tradições e os costumes que passaram de mãos para mãos. Objetos que podem ser diferentes na forma e nas histórias que carregam, mas que criam laços em todo o Brasil. “Estamos muito unidas pelo barro”, finaliza Marciana.