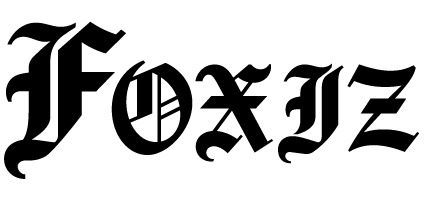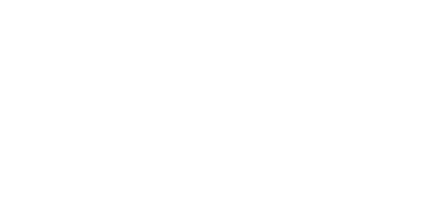Familiares e amigos dos nove jovens que morreram no episódio conhecido como Massacre de Paraisópolis, de 2019, e movimentos sociais, como a Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio, realizaram hoje (25), uma manifestação para homenagear as vítimas e cobrar resposta do poder público. O ato aconteceu em frente ao Fórum Criminal da Barra Funda, onde começa, nas primeiras horas da tarde, a primeira audiência de instrução do processo que pode condenar por homicídio 12 policiais militares que atuaram na operação. O que se decide agora é se irão a júri popular ou não.
Para esta terça-feira, está previsto o início da série de depoimentos de testemunhas de acusação, que totalizam, segundo a defensora pública Fernanda Balera, que acompanha o caso, 24. No total, 52 testemunhas foram arroladas.
A defensora pública classifica o caso como “emblemático” e comenta que há solidez de provas contra os policiais. “A gente tem muitas evidências. Vídeo, análise das trocas de conversas entre os policiais, os testemunhos. E todo esse conjunto de provas não deixa nenhuma dúvida de que os nove jovens morreram por uma ação intencional da polícia, que atuou de forma violenta, criando um cerco de terror, jogando bombas, usando morteiro, gás, spray, que gerou todo um caos intencional e acabou ocasionando a morte dos jovens”, diz, adicionando que não houve nenhum movimento de resistência das vítimas diante dos policiais.
Cerca de 250 pessoas participaram do protesto, vestindo roupas pretas, em um sinal de luto pelos jovens que perderam a vida durante a operação da Polícia Militar (PM) feita no baile funk DZ7, na favela de Paraisópolis, em 1º de dezembro de 2019. Vigiados por duas viaturas da PM estacionadas e uma terceira, da equipe de força tática, que transitava lenta e silenciosamente. Em certo momento, um helicóptero sobrevoou o fórum.
O grupo também fez um minuto de silêncio em gesto de respeito e memória às vítimas e ergueu cartazes de protesto, pedindo o fim da perseguição da polícia contra negros e da PM racista. Outro dizia: “Disque 190 para matar pobres”. Por volta de meio-dia, os manifestantes leram o manifesto que pede a punição dos agentes de segurança.
Ao chegar ao fórum, a reportagem da Agência Brasil apurou que as famílias não puderam, por ordem da administração do local, pendurar faixas nas grades. Uma delas, de fundo preto e letras em branco, trazia os dizeres “Massacre de Paraisópolis – Hora da justiça”. Em outras, era possível ver fotos dos rostos das vítimas, com mensagens de saudade.
Em complemento a falas feitas anteriormente ao microfone, André Delfino da Silva, militante dos movimentos de favelas, afirmou que é preciso se repensar a preparação dos policiais e que eles “se transformaram em assassinos em favor do capital”. “No processo de formação, a gente é construída como o inimigo”, declarou.
Um jovem que se identificou como amigo de uma das vítimas também se posicionou com firmeza, criticando a atuação dos policiais na operação. “Não foi acidente, não foi falta de treinamento, foi uma chacina. Esses erros operacionais ocorrem todos os dias na mão da polícia. Isso não acontece em bairro nobre. Aquilo foi tortura, assassinato. O que está acontecendo é o genocídio de jovens”, disse.
Ivanir Aparecida da Silva, mãe de Eduardo da Silva, disse à Agência Brasil que a sensação de desamparo diminuiu com o atendimento prestado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo e que, embora o governo tenha oferecido indenizações às famílias, a vida de seu filho “não tem preço”. Para ela, essa forma de reparação, inclusive, em sua avaliação, serviu como forma de tentar calar o protesto dos familiares.
Ivanir contou que Eduardo morava em Carapicuíba e deixou um filho de dois anos de idade. O jovem, disse ela, não dava ouvidos a seus conselhos para evitar ir ao baile funk, também chamado de pancadão, e para tomar cuidado com a truculência da polícia, que poderia ser ainda pior, no seu caso, já que ele era negro. Para Eduardo, não havia nada de errado em querer se divertir.
“No dia em que ele morreu, eu o esperei em casa e ele não chegou”, desabafa.
“Ele falou para o filho dele, vou ali e volto já. E, quando voltou, voltou em um caixão, sabe Deus como, porque ele estava irreconhecível”, acrescenta a irmã do jovem, Janaína da Silva, que ressalta que as autoridades impediram a família de ver o rosto do jovem, no Instituto Médico Legal (IML), e que uma vizinha teve que se mudar após a intimidação de policiais. “Meu sobrinho é uma criança que não pode ver polícia, com medo de a polícia fazer o que fizeram com o pai dele. Pra gente, é muito doloroso.”
Outro elemento que gerou a suspeita de que houve abusos por parte dos policiais foi a forma como a família deixou de ser comunicada sobre os detalhes do ocorrido. Segundo Ivanir, ela chegou a ser informada, por telefone, de que ele estaria internado em um hospital de Campo Limpo.
Câmera como aliadas Conforme noticiou a Agência Brasil, a letalidade policial aumentou 29% em fevereiro deste ano. Uma das formas que têm inibido arbitrariedades cometidas pelos agentes de segurança é o uso de câmeras acopladas ao uniforme que utilizam.
Contudo, não necessariamente precisam ser desse tipo. Como diz Ivanir, até mesmo a vigilância que moradores de favelas exercem sobre os agentes pode ajudar a combater os abusos. “Se ninguém tivesse tirado foto, feito vídeos, nada, eles [os policiais] iam sair daqui com a cabeça erguida”, afirma ela.
Outro lado A Agência Brasil solicitou posicionamento da Secretaria da Segurança Pública sobre as críticas ao comportamento dos policiais. Em resposta, a pasta encaminhou nota, em que diz que “os inquéritos civil e militar sobre o respectivo caso foram concluídos e remetidos ao Poder Judiciário.”
“Um dos indiciados não mais integra os quadros da Polícia Militar e os outros 12 seguem afastados das atividades operacionais de policiamento até a conclusão do trabalho judicial”, completa.