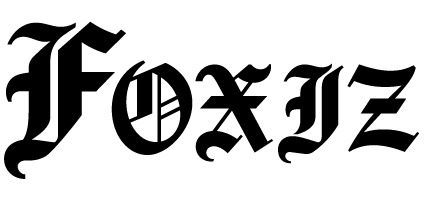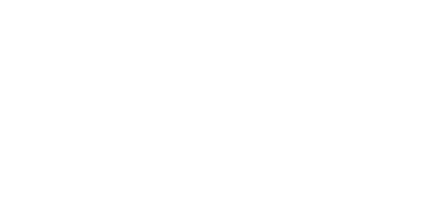Neste ano tenho ouvido muito dele. Desde a notícia de que a Acadêmicos do Salgueiro traria em seu samba-enredo o mais antigo foi uma efervescência e de repente todos descobriram que ele existia, que era palhaço, que era negro. Sabe-se hoje que ele era mineiro, que sofreu exploração de trabalho infantil, mendicância, trabalho escravo e que vivia fugindo para não sofrer violência ou escravidão. Segundo ele, era essa a sina do negro: fugir.
Era acrobata, dramaturgo, ator, dono de circo, um artista completo. Benjamim era palhaço. Para muitos, o primeiro palhaço negro do Brasil. Sobre isso não há consenso. Mas foi o primeiro negro dono de circo que esse país teve, isso não há que duvidar. Inclusive é um dos poucos donos de circo negros que este país já viu até hoje. Teve seu trabalho reconhecido pela crème de la crème da cultura carioca do início do século XX. Seu talento era consenso entre a crítica e a política.
Seu prestígio ia desde o presidente Marechal Floriano à Arthur Azevedo. Aqui se faz necessário ressaltar que Mestre Benja, não raramente, precisava pintar seu rosto de branco para poder encenar suas peças.
Não obstante, toda sua relevância para a história da arte no Brasil, visto o modo como inaugurou uma nova linguagem artística com a criação do “Circo Teatro”, o negro Benjamim por pouco não viria a morrer na miséria se não fosse uma manifestação de seus amigos artistas pleiteando, junto ao governo, uma pensão ao preto que já velho não mais se apresentava.
Por que eu preciso de Benjamim? Talvez eu possa explicar isso contando a história de outro contemporâneo seu e também fruto da diáspora: Eduardo Sebastião das Neves. O “Crioulo Dudu”, como foi conhecido, também era palhaço na virada do século XX e tinha a tradição de deixar teatros vazios quando passava com seu circo pela Região Serrana do estado do Rio de Janeiro a ponto de ter de encarar uma lei que proibia sua entrada nas cidades da região. Obviamente, a lei gerou tumulto público que culminou em sua derrubada e o “Diamante Negro” tomou seu público de volta, como de praxe. Compositor, ator, escritor, dramaturgo, palhaço, cantor e dançarino. Outro artista completo que viria a morrer pobre e jovem aos 45 anos.
Por que eu preciso de Benjamim e de Sebastião? Porque a República brasileira de maneira intermitente, porém contundente, não mede esforços para apagar a história, a memória e a trajetória das pessoas africanas.
Ouso aqui enumerar alguns forçosos registros que retratam tal apagamento, pois não há como passar em branco a retratação europeizada que insistem em fazer de Machado de Assis como a mais clara manifestação das teses eugenistas de embranquecimento da população desta vil república.
::Radinho BDF: meninas e meninos negros falam sobre respeito e combate ao racismo::
James Baldwin diria que ser negro e ter o mínimo de consciência da gravidade do quadro que nos é imposto significa estar constantemente com raiva.
Pois é com raiva que me deparo com os desdobramentos do decreto-lei de Getúlio Vargas conhecido como “Lei da Vadiagem” no encarceramento em massa de homens e mulheres pretos e pretas que dura até hoje. Ainda enumerando com raiva, como lembro de toda a favelização imposta aos africanos pela Lei de Terras de 1850 e do processo de expulsão de pessoas pretas de seu local estabelecido – aqui eu aproveito para me referir à Tragédia do Bumba. E, sobretudo, é com raiva que cito a maneira mais incisiva de apagamento: o genocídio de jovens negros como Carlos Adriano, de 17 anos, morto no Morro do Caramujo, em Niterói, em 2017, por policiais que confundiram com uma arma de fogo a marmita que ele carregava consigo, às 7 horas da manhã a caminho do trabalho.
Por que eu preciso lembrar disso tudo? Porque estas tentativas de apagamento em várias frentes diferentes ocorrem para tentar moldar a História. Mas a História, meu respeitável público, é implacável! Ela é implacável quando nos ajuda a achar relações entre os fatos aparentemente isolados e perceber que certas coincidências não são tão aleatórias assim.
Não me parece coincidência que Crioulo Dudu e Mestre Benjamim tivessem vidas dedicadas à evolução da arte no Brasil, mas que tenham morrido ambos na linha da pobreza.
A História nos mostra que essas inúmeras tentativas fracassadas de apagar pessoas negras, seja modificando seus retratos, expulsando-as de vista ou matando-as, tomam parte de uma mensagem extremamente clara: pessoas negras devem ser tratadas como pregos fincados na tábua da miséria e da irrelevância. E bem sabemos: prego que se destaca, leva martelada!
Mas as mensagens que essa “carta branca” traz aos quatro cantos, sequer tem aparência de verdade. Sobre a importância da presença africana nesta República, eu poderia enumerar, desta vez com orgulho em lugar de raiva, nomes que muitos sequer sabem que não eram brancos como Antonieta de Barros, Milton Santos, André Rebouças, Nilo Peçanha e Chiquinha Gonzaga.
::Dica: 5 filmes pernambucanos que discutem racismo, desigualdade, ancestralidade::
Há outros invisibilizados de maneira mais brutal. Nomes que sequer devem ser citados, exceto de quando em quando e sob demanda, ao ganharem a visibilidade de um “chaveirinho” quando tem sua memória ressuscitada de maneira mais calculada, como Arthur Timótheo, Maria Firmina, Clementina de Jesus, Jocanfer, e o niteroiense Pinto Bandeira que entra para a coleção de artistas negros de fim de vida trágico.
Por que eu preciso reivindicar o legado destes ancestrais? Porque todos estes nomes configuram dos verdadeiros arquitetos do Brasil. À boa parte deles todos devemos o caminho que nossa arte trilhou até hoje. São nomes de referência na arte e na comédia. Mas eu não vou cair na armadilha criada por este modo de buscar referências. Benjamin e Eduardo são ancestrais importantes de todos os africanos em diáspora que trabalham com comédia aqui. Mas não só eles.
Acontece que na minha busca por referências eu percebo que preciso buscar nomes importantes de pessoas negras que se não são artistas, cientistas, intelectuais e políticos de renome midiático e literário sempre foram e serão filhos, mães, pais, irmãos, amigos e amantes importantes de todos nós.
Já disse isso quando me referia à importância de vidas negras em um fala no Conselho de Cultura de Niterói. Neste momento, me recordo de ouvir familiares dizendo que em minhas cenas, meu corpo parece imitar a corporeidade de um outro Sebastião. Não o das Neves, o Miranda. Sebastião Miranda, vulgo “Derrubada”.
Por que eu preciso de “Derrubada”? Porque o senhor meu avô, semelhantemente a Benjamim e Eduardo, teve um fim miserável devido à suas questões com álcool, o que eu percebo é a intensa tentativa de todos ao meu redor de apagá-lo de minha história e da história da família. Justo. Quem quer lembrar de um homem que só trazia problemas? Eu quero. Explico: ao olhar a trajetória do arquétipo do palhaço no Ocidente me deparo com o enorme valor dado pelos europeus à figura do bêbado. O palhaço da branquitude é quase uma saudação aos seus pinguços. Se eles podem criar todo um arquétipo em torno de seus ébrios, por que eu não posso saudar os meus?
Não quero romantizar o alcoolismo, mas quero dizer que preciso de Benjamim, tanto quanto preciso de meu avô para fazer a minha arte. Preciso das reuniões com meu tio Cami, preciso do feirante e do camelô. Preciso do malandro, do ambulante, eu preciso dos meus. Os meus de antes e os meu de agora. Preciso também dos meus de depois. Preciso dos griots, dos pretos velhos, dos capoeiras, preciso de Toth, Exu e Aroni e Antônio Carlos Mussum. Minhas referências estão do meu lado, estão atrás de mim, elas formam um círculo ao meu redor como um redemoinho que protege quem está dentro e varre pra longe quem está fora. É por isso que precisamos de Benjamim, porque pra quem sabe de onde veio, nenhuma rua é sem saída.
*Eddie Miranda é palhaço na Cia. Mala de Mão.
Fonte: BdF Rio de Janeiro
Edição: Mariana Pitasse e Raquel Júnia