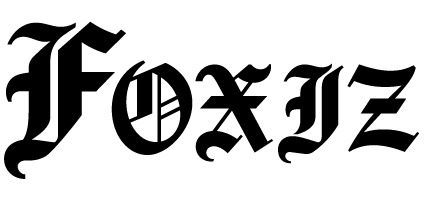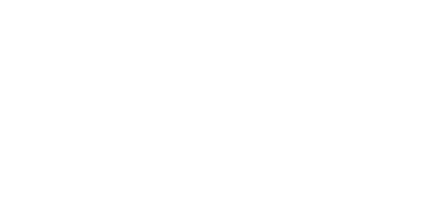Os impactos econômicos da pandemia de covid-19 já são imensos. A Organização Mundial do Comércio (OMC) projeta uma queda do comércio internacional em 2020 de 13% a 32%. Segundo a Oxfam, 54 milhões de pessoas podem cair na pobreza na América Latina. E, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o equivalente a 195 milhões de postos de trabalho “full-time” podem ser cortados em todo o mundo no segundo trimestre de 2020.
O quadro é crítico para o mundo inteiro, mas, nesse contexto, algumas vozes aqui, no Brasil, insistem que o isolamento social é exagero, que pode levar a mais mortes que o vírus no longo prazo, alimentando uma suposta dicotomia entre saúde e economia. É duro dizer isso, mas essas vozes nada mais fazem que levar ao extremo um argumento muito repetido nos últimos anos: o de que é preciso antes “pensar na economia que na vida”. Desde 2015, passamos por aumento brutal do desemprego, da informalidade, das queimadas na Amazônia, redução da cobertura do programa Bolsa Família, entre outras diversas tragédias. Foi preciso que um vírus afetasse todo o globo para que alguns se dessem conta de que, afinal, é preciso colocar as pessoas e os direitos humanos em primeiro lugar e parar o sistema capitalista em prol da proteção dos mais vulneráveis. No entanto, algumas tantas vidas poderiam ter sido salvas se esse aparente consenso de que a vida humana é mais importante tivesse sido alcançado antes. E até quando esse “consenso” em prol da vida durará, é outra questão.
Desde 2015, economistas do campo progressista têm repetido que é falsa a dicotomia entre a questão social e a economia; que o mantra da austeridade em detrimento dos direitos sociais que levou à aprovação da Emenda Constitucional 95 e a outras reformas liberais nos levaria a uma grave anomia social. Os defensores da austeridade diziam que os direitos sociais não cabiam no orçamento, que era preciso cortar direitos sociais. Cortamos, cortamos e cortamos. A economia não “decolou”. Então diziam ser necessário cortar mais. Obedientemente, cortamos. Cortamos direitos, hospitais, renda, CLTs. Fomos fragilizando a sociedade brasileira, o SUS, o mercado de trabalho. [um adendo: agora com a coronacrise um dos grandes “adventos” da reforma trabalhista, o tal contrato intermitente, é tratado por sua essência de informal e não por sua aparência de formal: intermitentes com contratos inativos também tem garantido acesso ao benefício de renda emergencial, sendo contados como trabalhadores informais. Ou seja, quando a coisa apertou, reconheceram que é absurdo considerar o trabalho intermitente como formal].
Aqueles mesmos defensores da austeridade agora se espantam que, diante de uma pandemia de proporções históricas, uma parte mais “terraplanista” se recuse a aceitar que o governo precisa apoiar em especial a população mais vulnerável. Da minha janela, ouvi uma pessoa dizer que “não aguenta mais ouvir falar em política social e Bolsa Família”, que “a palavra ‘mercado’ sumiu do noticiário”, como se o governo estivesse fazendo muito pelos mais vulneráveis. O mantra incessantemente repetido foi de que não podíamos gastar, que tudo fora desse receituário era socialismo, que o Brasil “quebrou”. Agora os defensores da austeridade se espantam que o presidente — incapaz de perceber que, diante de uma crise destas proporções, espera-se que seu governo seja agente (ativo) e auxilie as pessoas em dificuldade — incentive pessoas a voltarem às ruas, arriscando a si mesmos e a suas famílias. Os defensores da austeridade se espantam que Paulo Guedes relute em apresentar propostas de políticas públicas eficientes e bem planejadas ou seja capaz de abrir as torneiras nesse momento em que todos os países no mundo ampliam os gastos para conter os efeitos econômicos da pandemia. Pois essa falsa dicotomia alimentou a ideia de que tudo fora da austeridade é “comunismo”, como sugeriu tweet de Carlos Bolsonaro nesse sentido. Em 1º de abril, o vereador-assessor-filho do presidente, ao comentar sobre as políticas de combate à crise econômica, afirmou: “O desenho é claro: partimos para o socialismo. Todos dependentes do estado até para comer, grandes empresas vão embora e o pequeno investidor não existe mais. Conseguem a passos largos fazer o que tentam desde antes de 1964″. O “certo” até poucas semanas atrás não era cada um por si, que cada um se virasse no mercado?
::Austeridade e cortes agravam os problemas que prometem resolver, analisa economista::
Já quase na metade de abril de 2020, a equipe econômica Bolsonaro-Guedes afirma que o impacto econômico da coronacrise ainda virá. A crise econômica já se iniciou faz mais de um mês, as pessoas já mudaram seus hábitos, governadores/prefeitos já alteraram as dinâmicas econômicas de seus estados/cidades. É verdade que a crise econômica em si (bem como a sanitária) ainda está no começo, mas a lentidão e inaptidão do governo em responder a essa crise são absurdas. Porém, não surpreendem. Nada mais condizente com a austeridade e com o Estado mínimo para os pobres que as antirrespostas do governo Bolsonaro à “coronacrise”. A equipe tardou em propor alguma medida para preservar a renda e o emprego dos trabalhadores formais. A proposta foi dada por meio da Medida Provisória 936, uma resposta capenga, inconstitucional e que reduz a massa assalariada a níveis dramáticos. Também relutou em oferecer algum tipo de ajuda aos trabalhadores informais, aos microempreendedores individuais (MEIs) e ao Cadastro Único. O governo, por fim, cede a pressões do Congresso Nacional e instituindo uma Renda Básica de Emergência, que começa a ser paga mais de 40 dias após o primeiro caso de covid-19 no Brasil. De um lado, o governo diz que se preocupa com os informais, que não podem parar. De outro, demora preciosas semanas para dar apoio econômico a essa população que não pode esperar. A equipe econômica foi lenta, ineficiente e ainda reluta em abrir mão de seus dogmas.
Nesse momento, é fácil bater em Bolsonaro. Mas, por mais que tentem dissociar a agenda econômica da austeridade do autoritarismo de Bolsonaro, o Chile de Pinochet (governo para o qual Guedes trabalhou) é prova de que ambos convivem muito bem. Por aqui foram anos dizendo que a Constituição de 1988 — símbolo da democracia e do fim da ditadura militar — não cabe no orçamento, atacando o gasto social. Se o Estado brasileiro de fato não tinha condições, nem deveria atuar para reduzir desigualdades e garantir acesso aos direitos sociais, Bolsonaro só está levando isso — de forma mais tosca e mais perigosa — adiante. Para desespero do Brasil profundo.
*Ana Luíza Matos de Oliveira é economista, doutora em Desenvolvimento Econômico e professora-visitante da FLACSO-Brasil.
Edição: Vivian Fernandes